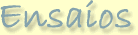 MODERNISMO: MODERNISMO:
TRADIÇÃO E RUPTURA
Ivan Junqueira*
Extraido de
POESIA SEMPRE. Revista da Biblioteca Nacional do RJ. Ano 1 – Número 1 – Janeiro 1993. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional / Ministério da Cultura – Departamento Nacional do Livro. ISSN 0104-0626 (da p. 153 - 168) Ex. col. Antonio Miranda
Sempre que se fala em tradição e ruptura, é comum ocorrer a ideia de uma ff atufa exposta entre aquilo que pertence ao passado, à tradição, e o que alimenta o novo, a modernidade em nome da qual se processa tal ruptura. A noção, além de falsa, só pode ser aplicada àquela ruptura que se pratica em nome do nada. Há uma ruptura, sim - e profunda-, com os segmentos gastos ou gangrenados dessa mesma tradição, uma ruptura com o que há de cediço, com o que já não vive, com um passadismo cujas formas, por não serem formas, já nada contêm sequer de agônico em si. São esses, inclusive, os grandes riscos que correm todas as vanguardas: ao romper indiscriminadamente com toda uma escala de valores e nada repor em lugar do que foi destruído, essas mesmas vanguardas nos remetem ao oposto do que pretendiam, tornando-se não raro autofágicas e epigônicas. Em certo sentido, as vanguardas se identificam apenas como antíteses reacionais de outras tantas teses, e não como sínteses de processos dialéticos, adquirindo por isso mesmo uma irremediável e precoce condição de caducidade. Entenda-se, todavia, que não se configura aqui nenhum libelo contra as vanguardas, sobretudo se considerarmos que elas trazem em seu bojo a própria essência da ruptura. A rigor, os movimentos de vanguarda são como que uma necessidade histórica, um fator inerente à própria saúde daquilo que se pode chamar de continuum literário, cuja dinâmica, por uma questão de sanidade intelectual e artística, repele quaisquer formas de estagnação capazes de pôr em risco a integridade do ato criador e a sobrevivência do artista.
Mas é preciso chamar a atenção para o fato de que, ao contrário do que quase sempre ocorre, ruptura não é demolição pura e simples. Se assim o fosse, jamais seria possível estender-se a ponte entre o antigo e o novo, e o papel da ruptura é exatamente o de lançar essa ponte, que se resume naquele momento em que se harmoniza e articula todo um processo de transição de valores, de reavaliação estética relativamente àquilo que não mais interessa seja porque já está morto, seja porque o mau uso o tornou imprestável. Tome-se aqui o exemplo de um poeta que foi, pelo menos a meu ver, um dos maiores revolucionários da poesia deste século. Refiro-me aqui a T. S. Eliot, autor, entre outros, de The waste land, poema a partir do qual são lançados muitos dos fundamentos da poesia moderna, inclusive o seu entranhado e difuso intertextualismo, esse palimpsesto através do qual, sobre o texto da antiguidade, se reescrevem as linhas da modernidade. Se observarmos o mosaico heterodoxo em que se resume e resolve aquele poema, veremos que o novo e o antigo aí se entrelaçam num convívio desconcertante e harmonioso. O antigo aí permanece como fonte, com expressão viva e matricial de uma cultura literária e filosófica que constitui a própria herança do homem ocidental. Sem a sua preservação, aliás, seria impossível qualquer emergência do novo, pois estaria destruída toda a tensão existente entre os polos antagónicos do que já foi e do que está vindo a ser, conforme aquela antiquíssima - e por isso mesmo sempre nova - lição de Heráclito de Efeso. O novo aí nada mais é que uma outra maneira de dizer as coisas, um ato de repensar o que já foi pensado, um esforço no sentido de redimensionar um universo que é e já não é o mesmo. Duvido muito que uma consciência poética moderna, ou que se pretenda como tal, possa emergir para o ato da criação se desconhecer a lição do passado. O poeta brasileiro, sobretudo o jovem poeta brasileiro, costuma incidir nesse tipo de falácia, ou seja, o de ignorar a herança de seus antecessores. Recentemente ouvi de um poeta cujo nome prefiro esquecer que Dante Alighieri não passa hoje de uma múmia. Imagine-se o que não seriam então Homero, Hesíodo, Virgílio ou Horácio. O poeta que assim se expressou já está num sarcófago, mas não o sabe. E nem poderia sabê-lo, enfaixado que está pelas ataduras do presente. De um modo mais específico, tentaremos aqui entender como se dá essa ruptura no modernismo brasileiro, movimento a partir do qual, talvez pela primeira vez, se pode falar de uma literatura que começou de fato a ser nossa.
O que se viu entre nós antes de 1922 não pode ser considerado a rigor como nosso no sentido de próprio, de autónomo, de diferenciado. Não pensemos aqui nas exceções dos casos isolados nem em vertentes premonitórias. Um Machado de Assis, por exemplo, é episódio raro, talvez único em nossas letras, e sua contribuição nos parece, em certo sentido, mais moderna que o próprio modernismo. O movimento modernista de 1922 tinha diante de si uma paisagem de fato desoladora: a do triunfo parnasiano, isto é, o triunfo da fôrma sobre a forma. E isso porque deitara suas raízes nas entranhas de um ideário estético inteiramente importado. E além de importado, empoeirado, gasto, cediço. O estranho no Brasil, inclusive, é que o simbolismo antecede o parnasianismo, ao contrário do que ocorreu em todas as literaturas europeias. E o simbolismo foi aqui infinitamente mais criador do que o parnasianismo. Ambos, porém, são frutos de importação algo passiva. Mais estranho ainda é que, enquanto isso ocorria, o modernismo já lançava suas sementes na França, na Espanha, nos países de língua inglesa e até mesmo na América hispânica. Nosso atraso era então quase letárgico. Em 1920, pouco menos de um século depois de Poe e Baudelaire haverem instaurado os fundamentos da poesia moderna, os poetas brasileiros se consagravam ainda ao cultivo de formas que já haviam sido banidas da literatura ocidental. Ao longo da década de 1910, a França lê os versos de Apollinaire e Éluard, os Estados Unidos têm Pound, Eliot e Amy Lowell, a Espanha celebra Lorca, Alberti, Machado, Guillén e Salinas, enquanto nós dispúnhamos apenas da modorrenta e hierática Trindade Parnasiana. O advento do modernismo não era apenas desejável ou previsível, mas de urgência urgentíssima. E talvez por isso a ruptura que ele promoveu, ainda que epidérmica, foi tão violenta e indiscriminada, com óbvios prejuízos, como se veria depois, para tudo aquilo que se iria cristalizar nas décadas posteriores.
O furor iconoclástico do grupo de 22 era tamanho e tão difuso que seus integrantes chegaram a proclamar que não sabiam bem o que queriam, mas sabiam perfeitamente o que não queriam. E claro que, nessas circunstâncias, o movimento modernista incorreu numa série de rupturas que não se justificavam em absoluto, mas que afinal tiveram lá sua utilidade, pois, na pior das hipóteses, conseguiram tirar nossa literatura do marasmo e da subserviência em que até então se encontrava. A maior prova de que tais abusos não procediam é que os beneficiários do Modernismo de 1922 não foram propriamente seus líderes, e sim aqueles que os apoiaram à distância ou, mais ainda, os que começaram a produzir alguns anos mais tarde. Manuel Bandeira e Dante Milano, por exemplo, que conviveram com todas as etapas da insurreição, jamais se consideraram integrantes do grupo, não apenas porque fossem mais velhos, mas porque eram poetas literariamente já formados e cuja modernidade pouco ou nada devia ao ideário de 1922. Ainda assim, ambos se beneficiam do movimento na medida em que a plena divulgação de suas obras só se tornaria possível graças ao clima de reconhecimento que em parte se instalou entre nós a partir da Semana de Arte Moderna. Um reconhecimento elitista, é bom que se diga, pois o povo continuou mesmo a ler Bilac e Raimundo Correia. E não sem razão, pois, apesar das hostilidades dos modernistas, eram ambos poetas notáveis. Grandes beneficiários - repito - foram aqueles que vieram depois e que, como seria de esperar, tiveram mais tempo para digerir o que então se propunha. Nos primeiros livros de Drummond de Andrade, de Vinícius de Morais e de Murilo Mendes, entre outros, já se percebe uma nítida separação entre o joio e o trigo. E isso para não falar de poetas como Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa, cuja formação simbolista opera como anteparo ao influxo modernista de linha oswaldiana. Mas é bom deixar claro que todos esses poetas só se tornaram mais ou menos editorialmente viáveis graças à ruptura preconizada por Mário de Andrade e seus discípulos. Apesar de todos os seus equívocos - alguns dos quais basilares e até mesmo ingénuos —, bem como de seu conservadorismo no que tange ao terreno das ideias, o movimento modernista de 1922 foi antes uma bênção.
Vejamos agora como ocorre na prática essa ruptura. Em primeiro lugar, ela não se processa apenas no plano literário. A Semana de Arte Moderna não reuniu somente escritores e poetas. Dela também participaram ativamente pintores, escultores, sociólogos, historiadores de arte, críticos, compositores e até mesmo ideólogos. Toda uma plêiade de intelectuais se empenhava no sentido de criar e consolidar um pensamento e uma visão do mundo que fossem, no mínimo, brasileiros, pois os modelos de importação sufocavam a capacidade criadora do artista nacional. Claro está que essa insurreição não poderia nascer do nada, como tampouco poderia aflorar de um substrato cultural e artístico que fosse apenas nosso. Que tradições poderia abrigar um país com menos de cinco séculos de existência, três dos quais sob o jugo colonialista, que só nos trouxe perdas e vícios? Pois importou-se outra vez, mas agora com o cuidado de fazê-lo mais crítica e criativamente. Há muito de Marinetti, de Dada, do cubismo e de Apollinaire no Modernismo de 22. Há nele muito de um nacionalismo exacerbado que tangencia o fascismo. Plínio Salgado, que pertenceu ao grupo Verde-Amarelo - ao lado de Cassiano Ricardo e Menottí del Picchia -, era e continuou a ser fascista. O Tristão de Ataíde dessa época defendeu também teses de acentuado caráter fascista, como o atesta Wilson Martins em sua História da inteligência brasileira. E há em todo o modernismo brasileiro um tom autoritário e algo messiânico que se confunde às vezes com as ideologias totalitárias. Mas essa é apenas uma de suas vertentes, um filão que aos poucos os próprios modernistas e seus herdeiros se encarregaram de esvaziar. O que deve ser aqui relevado é o sistemático combate às formas desgastadas dos modelos de importação e a consciência que cada escritor passa a ter relativamente ao uso da língua e da linguagem. Era urgente que se criasse — e sobretudo se utilizasse — uma língua portuguesa mais nossa, uma língua que "não macaqueasse a sintaxe lusíada'', nos moldes em que a preconiza Manuel Bandeira em sua famosa "Poética", justamente ele que tanto preservou pela vida afora o idioma de Camões. Mais uma vez, é Bandeira quem nos fornece a visão mais lúcida desse delicadíssimo problema do uso da linguagem, o que muito provavelmente se deve ao fato de haver sido ele o poeta poeticamente mais culto de toda a nossa literatura. Já se pressentem nítidos indícios dessa ruptura no segundo livro de Bandeira, Carnaval, mas é na "Poética'', pertencente ao terceiro volume de versos do autor, Libertinagem, que se lê:
Estou farto do lirismo comedido
Do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente
protocolo e manifestações de apreço ao Sr. Diretor
Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário
o cunho vernáculo de um vocábulo
Abaixo os puristas
Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis.
O alvo dessa explosão libertária é mais ou menos óbvio. A década imediatamente anterior à da revolução modernista assinala o apogeu dos grandes poetas parnasianos - Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira - e de prosadores bem comportados como Coelho Neto e Humberto de Campos, embora mesmo estes, como depois se viria a descobrir, tenham assinado textos que em nada recordam aqueles que os colocou na mira das baterias modernistas. E o bom comportamento era o que menos interessava ao modernismo, cuja preocupação residia apenas na formulação dos fundamentos de uma linguagem que não mais ignorasse as muitas características- e, para que não dizer, as muitas virtudes - de uma fala autenticamente brasileira. E essa, inclusive, a vertente de que passarão a se nutrir todos os regionalismos. Isso explica, ao menos em parte, a existência, não de um, mas de vários modernismos - o gaúcho, o mineiro, o nordestino —, além dos que se desenvolveram em São Paulo e no Rio de Janeiro, em si mesmos já profundamente distintos. E vemos assim, como inevitável consequência dessa diversificação, que são muitas também as rupturas, às vezes mais, às vezes menos intensas. Sabia-se de antemão que seria de todo impossível unificar no Brasil, país de dimensões continentais, os diversos matizes regionais e linguísticos dessa insurreição. E a própria tentativa de implantar uma língua nacional nos moldes em que a tentou Mário de Andrade em seu Macunaíma nada mais é que um fragoroso malogro, já que o autor não conseguiu traduzir em plano estético as informações folclóricas das fontes a que recorreu. Quando muito, essa língua seria apenas "paulista'', o que afinal não era língua nenhuma, mas somente uma galáxia de trejeitos e cacoetes dialetais, o próprio triunfo da afetação, da impotência e da impropriedade linguísticas. Mas não há dúvida de que foi justamente esse naufrágio o responsável direto pela experiência que, algumas décadas depois, levará a termo Guimarães Rosa. O malogro de Macunaíma tem o mérito, afinal, de chamar a atenção para a possibilidade - e, mais ainda, para a urgente necessidade - de nos libertarmos de uma língua irreal, falada e escrita a muitos quilómetros de distância na Península Ibérica e nas colónias da África e da Ásia. É assim que todos esses malogros e equívocos acabam por trazer um inestimável benefício ao português falado no Brasil. E foi essa nova língua literária, essa nova forma de expressão pela qual se bateu sem trégua o modernismo, que possibilitou o advento de uma literatura da qual já não se poderia dizer que não fosse pelo menos brasileira.
Outro aspecto fundamental da ruptura modernista é o da temática, que até então - com raras exceções - ainda se nutria de matrizes estranhas ao nosso meio, como as de origem greco-romana, a que muito recorreram os poetas parnasianos. Poemas como "A tentação de Xenocrates'' ou "O julgamento de Frinéia", ambos de Bilac, não nos deixam mentir. Essa exploração de uma temática tipicamente brasileira foi, aliás, uma das tónicas do modernismo. Em nenhum momento de sua história, a literatura brasileira se voltou tanto para os temas nacionais. As próprias designações dos grupos Verde-Amarelo, Anta e Pau-Brasil, além da facção da Antropofagia, já denunciavam abertamente esse propósito. Não há um único poeta modernista que não haja se ocupado dessas vertentes, entre eles Cassiano Ricardo, com o Martim Cererê, Raul Bopp, com Cobra Norato, Mário de Andrade, com o já citado Macunaíma, Jorge de Lima, com Essa nega Fulô, ou até mesmo Manuel Bandeira, em muitos de seus poemas, além de vários outros autores, seja na prosa, seja na poesia, seja ainda na sociologia e mesmo na historiografia. O cultivo dessa temática, em parte abandonada pela segunda geração modernista, se não garantia o nível literário ou artístico das obras que então se produziam, teve pelo menos o mérito de nos acordar para aquilo que era nosso, nossas lendas e nosso prodigioso folclore. Durante as duas primeiras décadas do século XX a importação de temas beirava as raias do contrassenso e, não raro, até mesmo do ridículo, já que, tanto do ponto de vista urbano quanto do ângulo regional ou rural, o cenário brasileiro oferecia uma gama riquíssima de opções e pesquisas. E isso sem falarmos nas infinitas possibilidades que nos abria o leque folclórico ou popular. Enfim, o modernismo, com todos os absurdos em que incorreu e os equívocos estéticos a que nos induziu, redescobria para nós essa coisa tão simples e tão prodigamente complexa que era o Brasil.
Mais ainda do que essa temática, o movimento modernista entreviu uma outra vertente, a do comportamento psicológico e social do homem brasileiro. E aqui reside mais uma das faces dessa prismática e generosa ruptura. Esse homem brasileiro já se delineia muito nitidamente nos romances de Machado de Assis e de Manuel Antônio de Almeida, no palco urbano, e em Euclides da Cunha, no cenário interiorano. Mas são ainda exemplos isolados de escritores excepcionais e premonitórios. O enfoque de cada um deles resulta de uma escolha pessoal e subjetiva, não tendo ainda um caráter de programa. O cultivo desse veio no modernismo é, ao contrário, programático. A realidade brasileira não poderia esquecer o principal elemento a ela inerente, o homem. E, mais do que ele, o seu comportamento. E a partir de então que começam a se sobrepor os diversos flashes da alma brasileira. Da visão aristocrática e citadina de um Machado de Assis - que, não obstante, é também brasileiríssima - chega-se ao gaúcho, ao nordestino, ao homem do planalto, ao negro e ao mulato. E até mesmo o índio passa a ser visto de outro ângulo, para além daquela celebração grandiloquente de um romantismo que se chamou indianista. Os índios de Macunaíma, por exemplo, já não lembram os apolíneos e triunfantes indígenas de Gonçalves Dias ou José de Alencar: são eles agora, como qualquer brasileiro, "heróis sem nenhum caráter'', ou anti-heróis mais condizentes com a nossa miséria ancestral. O modernismo rompe assim com as máscaras do bom comportamento e de um falso heroísmo sob as quais era sempre apresentado o homem brasileiro. Esse homem surge agora com suas fraquezas e seus vícios, com toda essa carga humana, demasiado humana, que é a mesma em todas as latitudes do planeta. O modernismo se recusa a idealizar - e deve muito, nesse passo, a Manuel Bandeira — o que quer que seja. O homem e o meio passam a ser retratados como são, e daí, talvez, a ira de um Monteiro Lobato, cujo Jeca Tatu podia ser tudo, menos a imagem de um homem do interior de São Paulo.
No caso particular do Brasil, toda essa ruptura tendia a ser espontânea — e de certa forma até previsível - por sermos um país muito jovem e que, obviamente, não tivera o tempo necessário à consolidação de um substrato tradicional como o têm, por exemplo, os países da Europa e da Ásia, cujos estratos culturais remontam a épocas muito anteriores. É claro que o sentido da tradição teria que ser outro nesses países, e neles a ruptura se torna particularmente difícil. A ruptura modernista reage assim não tanto contra uma tradição envelhecida, mas antes contra uma situação de marasmo e acomodação, característica, aliás, de povos que mal saíram de sua infância colonial e do parasitismo a que foram sujeitos pelo colonizador, como era o caso do Brasil. O que se pode chamar de tradição em nosso país não tinha então sequer dois séculos. O que temos dos séculos XVI e XVII é praticamente nada, e do século XVIII - se excetuarmos o Barroco mineiro - nada resta senão vagidos e fragmentos inarticulados. A tradição de uma cultura brasileira só começa a engatinhar em meados do século XIX, e o processo de civilização que aqui implantou o colonizador não nos trouxe a rigor benefício algum. Não fomos colonizados por um povo de cultura, ou pelo menos os que aqui se instalaram não podem ser vistos como homens de cultura. E tal situação haveria de perdurar pelo menos até o século XIX, quando aqui aporta a família real e se iniciam algumas tímidas mudanças, sobretudo a partir da implantação da Imprensa Régia, da criação de instituições de fato preocupadas com o desenvolvimento cultural da colónia, da vinda de missões artísticas e científicas, como foi o caso da Missão Francesa, e da participação mais ativa de pintores, arquitetos, escultores, paisagistas, cronistas e cientistas europeus. Até um paleontólogo da estirpe de Peter Wilhelm Lund resolveu por aqui ficar para sempre, embora seja este um caso de opção pessoal. Até então, todavia, não dispúnhamos de uma única universidade, quando o Peru, por exemplo, possuía a de San Marcos, criada em 1551, cerca de três séculos antes! De qualquer forma, já no fim da primeira metade do século XIX a vida cultural brasileira começa de fato — e talvez pela primeira vez - a se beneficiar dessa nova situação. Mas seria possível - ou minimamente razoável - falarmos de uma tradição brasileira? A tradição é algo que envolve necessariamente um sentido muito agudo de nacionalidade, de uma nacionalidade quase ancestral, pré-histórica mesmo. E o Brasil, como nação independente, começa apenas a existir a partir de 1822. Antes dessa data, o que temos? Quando muito - insisto -, esse fabuloso e inexplicável Barroco mineiro, berço progônico de nossa autonomia e de nossa nacionalidade. Temos esse prodígio chamado Aleijadinho. Mas é só. Ou quase nada além disso.
A ruptura promovida pelo movimento modernista é em parte caótica justamente em virtude dessa falta de substrato cultural, dessa carência da tradição, dessa escassez de fundos civilizatórios. O modernismo viu-se também na dura contingência de importar ainda uma vez. Os elementos revolucionários do ideário estético de 1922 foram trazidos da Europa por Graça Aranha e Oswald de Andrade. E caberia a alguém, se possível com isenção de ânimos, fazer ainda um rigoroso inventário de tudo aquilo que se importou nessa época para que todos ficassem sabendo o que devemos a Marinetti e aos futuristas, a Dada, a Tristan Tzara e, talvez mais do que estes, a Apollinaire e aos cubistas. Mas não teria sentido aqui, por outro lado, censurar a iniciativa dessa nova importação, pois nela havia algo de lúcido, de dinâmico e mesmo de seletivo. Ademais, para o Brasil de 1920, o isolacionismo cultural seria a pior de todas as alternativas. Éramos ainda, todavia, excessivamente tributários de uma cultura francesa, condição essa que só nos foi possível ir alterando aos poucos. E esse processo já não se enquadra dentro do tempo histórico do modernismo. No entanto, foram os modernistas que criaram as condições para que ele pudesse se desenvolver. Rompia-se então, na verdade -ou se tentava fazê-lo -, com a visão agônica de uma sociedade pequeno-burguesa. Apesar de toda essa lucidez premonitória, porém, sabemos todos que a perspectiva pequeno-burguesa ainda dominaria a sociedade brasileira pelo menos até a década de 1960, e, como já se disse aqui, o próprio modernismo foi, em certo sentido, também pequeno-burguês e conservador. A insurreição modernista foi sobretudo um movimento de elite que reunia artistas e intelectuais insatisfeitos com o marasmo da vida e da cultura brasileiras. A ruptura só foi mesmo sentida e absorvida nos estratos das classes mais favorecidas, das classes que tinham acesso aos jogos de espírito e suficiente dinheiro no bolso. Caberia aqui imaginar que a Semana de Arte Moderna pudesse ter sido realizada em Maceió ou Teresina? E assim o grande público continuava a ler Bilac, Castro Alves e Coelho Neto. O povo vaiou os modernistas. O leitor brasileiro das décadas de 1920 e 1930, em particular o leitor de poesia, não se libertara ainda da métrica e da rima, como tampouco sabia o sentido mais profundo do uso dessa métrica e dessa rima. O que ele queria, na verdade, era ouvir uma música desde sempre ouvida, um ritmo já conhecido e, se possível, lidar com idéias já consagradas pelo uso, sobretudo pelo mau uso. O modernismo tinha assim o pior de todos os inimigos: a própria platéia para a qual montava o seu insólito e temerário espetáculo.
Vejamos agora, mais especificamente, as etapas que percorreram os autores modernistas ao longo desse processo de revisão. Vejamos sobretudo como foi preparada a Semana de Arte Moderna, em que contexto ela se tornou possível e quais as suas repercussões imediatas. O percurso do modernismo até 1930 não foi, como seria de esperar, retilíneo. Na verdade, o movimento de 1922 se confunde com a própria tomada de consciência da vida moderna, de uma visão que ainda não existia entre nós, mas que todos sabiam estar próxima. Ou o país se integrava num contexto que já era universal, ou seria de vez e para sempre marginalizado no concerto dos povos e das nações. Insisto aqui sobre este ponto fundamental: a consciência nacional, em todos os seus níveis de atividade, só começa a ser estruturada a partir da década de 1920. Todo um longo trabalho de preparação antecedeu a realização da Semana de Arte Moderna, que se constituiu, afinal, no ruidoso e espetacular coroamento da não menos ruidosa e agressiva tomada de posição dos moços intelectuais paulistas diante das práticas artísticas que dominavam o país, práticas essas consagradas pelo consenso geral, mas já intoleráveis pelo anacronismo e, sobretudo, por uma repetição no mínimo fastidiosa e letárgica. Remontemos ao início da década de 1910, pois é aí que se situam os primeiros sintomas da transformação. O próprio triunfo efémero do parnasianismo já é indício de decadência. Há assim um roteiro histórico que precisamos conhecer, um itinerário sem o qual não nos será possível compreender os fundamentos de um ideário estético que se articula, bem ou mal, a partir dos três festivais que se realizaram nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo e que constituíram a Semana de Arte Moderna.
Voltemos ao ano de 1912, quando Oswald de Andrade volta da Europa e nos dá a primeira notícia do Manifesto futurista de Marinetti e da coroação de Paul Fort como o príncipe dos poetas franceses. E quem era Paul Fort? Era, como disse Oswald — embora vá nisso certo exagero — "o mais formidável desmantelador da métrica de que há notícia". Por essa época, aliás, Oswald escreve um poema sem rima nem metro que provocou muita zombaria por parte dos leitores, a começar pelo título: "Último passeio de um tuberculoso pela cidade, de bonde". No ano seguinte, o pintor Lasar Segall, um russo que depois se naturalizaria brasileiro, expõe seus quadros em São Paulo - e seria essa a primeira mostra de pintura não académica entre nós. Mais um ano, e Anita Malfatti exibe suas telas de aluna de pintores alemães expressionistas. Ainda em 1915, Luís de Montalvor, um diplomata português, e Ronald de Carvalho lançam a revista Orfeu, sob o influxo heterogéneo de Camilo Pessanha, Verlaine, Mallarmé, Whitman, Marinetti e Picasso. Agora vejam que coisa no mínimo curiosíssima: em 1916, o arquiparnasiano Alberto de Oliveira, membro da Academia Brasileira de Letras, referindo-se às proposições de Marinetti, dizia que "formas literárias desconhecidas e desconhecidos géneros" estão surgindo e que "virão amanhã as novas idéias de um novo período social''. O ano seguinte revela-se rico de acontecimentos relacionados à evolução do modernismo. Oswald de Andrade e Mário de Andrade, os dois maiores líderes do movimento em São Paulo, se aproximam. Inaugura-se a exposição de Anita Malfatti, que Monteiro Lobato ataca violentamente no artigo "Paranóia ou mistificação'' e que faz da pintora, como diria Lourival Gomes Machado, a "protomártir da renovação plástica brasileira''. E nesse ano, também, que Menotti dei Picchia publica o seu Juca Mulato, poema no qual há uma como que despedida da era agrária diante da era industrial que então se inaugurava.
Surgem ainda A Cinza das Horas, de Manuel Bandeira, e os Carrilhões, de Murilo Araújo, coletâneas que, apesar da herança parnasiana e simbolista, já antecipam os novos rumos. O grande crítico da época, João Ribeiro, proclama que Bilac e Alberto de Oliveira estão fora do tempo. E estavam. No plano internacional, a Revolução Comunista de 1917 é outra violenta ruptura, pois derrubaria um sistema económico e político de muitos séculos, impondo uma ideologia na qual pouquíssimos acreditavam. E nesse mesmo ano, em São Paulo, uma greve mobiliza 70 mil operários, episódio que vem a confirmar serem outros os tempos. Em 1920, diante da realidade de um núcleo inovador e inconformado, Oswald de Andrade anuncia que um pequeno grupo de escritores e artistas de São Paulo está se preparando para fazer valer o ano do centenário da Independência do Brasil: 1922. Oswald se converte assim no arauto da Semana de Arte Moderna e sentencia: "Independência não é somente independência política, é acima de tudo independência mental e independência moral". O princípio da ruptura estava irremediavelmente lançado. E chega-se assim ao ano de 1921, um ano de combates, de abertura de hostilidades, de conquista de terreno, de posições estratégicas.
De um modo geral, a plataforma estética do modernismo incluía os seguintes princípios básicos: 1) a total repulsa às concepções parnasianas, românticas e realistas; 2) a independência mental brasileira mediante o repúdio às sugestões e infiltrações europeias, em particular as lusitanas e francesas, muito em voga até então nos meios cultos conservadores; 3) a formulação de uma nova técnica de representação da vida, uma vez que os processos antigos ou já conhecidos se revelam impotentes para apreender e interpretar os problemas contemporâneos; e 4) a adoção de uma outra expressão verbal para a criação literária, expressão esta que os modernos italianos e franceses já estavam utilizando e que não fosse mais a mera transcrição realista ou naturalista, e sim uma recriação crítica, trabalhada e consciente, capaz de transpor para o plano da arte uma realidade impregnada de vida, com seus conflitos, suas contradições, seu tumulto, sua miséria e sua grandeza. Com isso, o modernismo abria uma polémica sem precedentes nos quadros da literatura nacional e da expressão artística entre nós, fosse ela qual fosse. E claro que, ao firmar posição contra o romantismo, o parnasianismo, o naturalismo e o realismo, os modernistas voltavam suas baterias contra o grosso da produção literária nos últimos vinte anos. Voltavam-se também contra a trindade étnica brasileira — o português, o índio e o negro —, pois nossa miscigenação passara a receber o sangue do imigrante, cada vez mais inserido no contexto da vida nacional. Atacaram ainda a métrica e a rima, assim como todos os moldes e formas antes aceitas. E não pouparam também o regionalismo, que escamoteava, segundo alguns de seus líderes, a nova realidade urbana e industrial das metrópoles tentaculares. Aceitavam apenas do passado o simbolismo, que lhes acenava com a possibilidade do verso livre e com o desapego às realidades imediatas, ideal da poesia e da prosa então em vigor. Não será difícil, a partir daí, perceber os equívocos em que haveria de mergulhar o novo ideário estético. Mas na verdade era preciso que assim o fosse. O momento não era propício a conciliações, mas a turbulentos radicalismos.
Como observa Mário da Silva Brito em sua História do modernismo
brasileiro', o ano de 1921 é decisivo. Em outubro, Graça Aranha volta ao Brasil e, logo depois, em novembro, Di Cavalcanti expõe seus primeiros quadros na Casa Editora O Livro, local em que se reuniam os intelectuais paulistas. Até esse momento, porém, os modernistas haviam lutado sozinhos, sem qualquer patrocínio ou tutela que melhor permitissem a sua atuação. O apoio de Graça Aranha foi importante por envolver o nome de um autor já reconhecido em plano nacional. Afinal, Graça Aranha era membro da Academia Brasileira de Letras e chegou mesmo a ser visto como o provável líder do novo movimento. Tudo estava praticamente pronto para a realização da Semana de Arte Moderna, em fevereiro do ano seguinte, e os fatos comprovariam, de maneira inequívoca e irreversível, que ela haveria de introduzir no Brasil a problemática do século XX, levando assim o país a integrar-se nas coordenadas culturais, políticas, históricas e sócio-econômicas da nova era: o mundo da técnica, o inundo mecânico e mecanizado - enfim, o mundo que o modernismo glorificaria e depois, por temer seus álgidos tentáculos, repudiaria. Pressentida por Bandeira em seu segundo livro, Carnaval, que é de 1919, a literatura modernista - ou, mais precisamente, a poesia modernista - nasce com Mário de Andrade, com os versos da Panlicéia desvairada, cujo "Prefácio interessantíssimo" expõe no plano teórico as linhas mestras do movimento. Nesse prefácio, erudito e polémico, o autor situa os problemas que informam a nova poesia, defendendo uma insólita visão para o fenómeno poético, para a concepção da forma, da função das imagens e de todos os recursos técnicos da expressão artística.
Embora inspirada nas proposições de Verhaeren, Pallazzeschi, Cendrars e Apollinaire, a poesia da Panlicéia desvairada revela uma acentuada preocupação com a problemática nacional, e seu autor celebra aqui a cidade de São Paulo, com seu pitoresco, seus vícios e vaidades, sua população de sangue intensamente misturado e de fala heterogénea. O processo de ruptura se cristaliza de maneira por assim dizer paradigmática, sublinha a existência do povo nas fábricas, espicaça a aristocracia paulista e abala o tradicionalismo de suas camadas sociais intocáveis e privilegiadas. Em toda a obra se percebe a vibração do poeta diante dos dramas obscuros da metrópole cosmopolita. Há nele uma doce ternura pela miséria da cidade e dos que nela se agitam, dando-lhe alma e colorido. A Paulicéia desvairada abre caminhos, revela processos inusitados de composição, esgrima temas anticonvencionais, aproveita assuntos até então interditos ao poeta e não considerados dignos da poesia elevada. Como já o fizera em parte Bandeira no Carnaval, Mário de Andrade nos alerta para essa coisa singela e elementar: o trabalho artístico pode operar sobre matéria diversa e nenhum tema é de antemão antipoético, mas, para sê-lo, depende do tratamento estético que se lhe dê. Embora com um atraso de quase setenta anos, as lições de Baudelaire e de Rimbaud chegam afinal ao Brasil. E agora, como o fez Baudelaire em Lesfleurs du mal, já se pode dizer tudo em poesia, até mesmo defender, em nome do Belo, uma estética do Feio. O ideário modernista percorre todo o país e a ruptura se alastra. O interior paulista é logo alcançado, seguindo-se Minas Gerais, o Sul e o Norte. No Rio de Janeiro, Manuel Bandeira e Dante Milano não aderem oficialmente ao movimento. Mas por que o fariam, se já eram modernos antes mesmo do modernismo? Aqui, seus maiores beneficiários aparecem no final da década de 1920, com Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Morais, Augusto Frederico Schmidt e Cecília Meireles, esta última originária das hostes neo-simbolistas, reunidas em torno do grupo da revista Festa, na qual também se destacam Tasso da Silveira e Murilo Araújo.
E assim chegamos ao início da década de 1930, quando o modernismo já cumprira o seu ciclo histórico e deitara por terra os tabus e preconceitos que lhe inspiraram a luta. Como signo de ruptura com as tradições conservadoras e académicas, o movimento estava plenamente justificado e triunfante. Graças à remoção do entulho parnasiano e naturalista, novas e fecundas perspectivas se abriam então aos poetas e prosadores. Os próprios integrantes do modernismo, ultrapassando a fase polémica e estabelecidos os seus direitos aos meios de expressão modernos, irão produzir agora suas melhores obras. Alguns, entretanto, acabariam sacrificados por sua atividade apologética, mas deixariam como herança a abertura dos caminhos através dos quais haveria de avançar a literatura brasileira. A maior de todas essas vítimas foi justamente Mário de Andrade, que sacrificou talvez o melhor de si mesmo em nome de uma luta que não poderia mais ser adiada. Nesse sentido, é dramática e pungente a conferência que o escritor pronunciou no Itamarati em 1942, um ano antes de sua morte. Se Manuel Bandeira foi o "São João Batista do modernismo", Mário de Andrade foi o próprio Cristo que morreu crucificado para nos redimir de uma realidade literária que não mais existia, mas cujos frutos enfezados teimavam ainda em germinar. E a ele, portanto, que devemos todos, em muitas latitudes, o que hoje somos como autores de uma literatura da qual o mínimo que se pode dizer é que seja nacional.
Bem, vimos um pouco oque foi o trajeto histórico da ruptura desencadeada pelo modernismo. Vejamos agora o roteiro estético a partir do qual ele se organizou e floresceu. De um modo geral, os novos poetas buscaram desde logo reformular os meios de comunicação, os materiais de composição e dar outro uso, afinal, aos recursos teóricos de que dispunham. Após derrogarem e revogarem todas as regras válidas para as gerações anteriores, eles próprios não pareciam dispostos a seguir quaisquer leis predeterminadas. Cada poeta tornou¬se assim um chefe e senhor de sua própria cabeça. O traço que os unia era o da independência formal e da liberdade na escolha dos temas, que não precisavam ser necessariamente '' poéticos** — aliás, como aqui já se disse, eles não o são —, mas deviam estar vinculados à hora presente e serem transpostos para o plano artístico conforme o novo ideal retórico. Embora influenciados pelas recentes conquistas do modernismo europeu, esses poetas desejavam preservar uma personalidade própria. Não queriam apenas trocar de leis estéticas ou adotar pura e simplesmente uma nova escola. Para a construção de sua obra e a condução de seus destinos pessoais nas artes e nas letras, restava-lhes o uso polémico de seus instrumentos de trabalho e dar expansão aos impulsos do próprio temperamento. A doutrina importada era sedutora, favorecia imensamente a tarefa de renovação e, além disso, se ajustava perfeitamente à paisagem paulista, à mentalidade urbana que São Paulo outorgara a seus habitantes. Mas São Paulo não era o Brasil e, a partir de então, o movimento modernista de 1922 começa a perder o seu caráter nacional. E por isso que em cada país, em cada língua, em cada cultura, a poesia moderna criou uma expressão própria e percorreu um itinerário particular, extraindo sua força tanto das diversidades e idiossincrasias peculiares do mundo contemporâneo quanto das característi¬cas comuns e das experiências de que todos partilhavam.
De início, os poetas modernistas, em razão mesmo do caráter revisionista do movimento a que aderiram, desenvolveram uma forma de oposição aos valores consagrados pela inércia pequeno-burguesa. Era o aguilhão da ruptura contra a tradição e a mentalidade académica, conservadora e agônica de um mundo contaminado e paralisado pelas fôrmas. Percebia-se em cada um desses poetas um sentimento de mal-estar e de fadiga ante o abuso de uma perfeição estratificada e que não nos dizia respeito. Os modernistas repeliram assim, ainda que de maneira arbitrária e algo ingénua, as formas fixas, a métrica e a rima tal como eram então compreendidas e praticadas, em especial pelos parnasianos. Era a hora do verso livre - esse verso que às vezes foi libérrimo, como diria depois Paulo Mendes Campos —, da polimetria, da rima ocasional, quase sempre Com intenções irónicas e satíricas. O poeta passa a acreditar cada vez mais no valor específico da palavra e no poder sugestivo do ritmo. O modernismo liberou, como se numa catarse, as virtualidades encantatórias da palavra a fim de induzir o leitor à emoção lírica das evocações e das reminiscên¬cias. Da imperturbável lógica parnasiana, que sufocou as próprias matrizes líricas da poesia, o poema evolui agora para a metalógica dos tempos modernos, o que iria conferir à linguagem uma força de sugestão e de associação desconhe¬cida dos poetas anteriores. Mário de Andrade exaltava o poder "simbólico, universal, musical da palavra em liberdade'', e estava certíssimo. Muito mais do que qualquer outra coisa, o modernismo descortinava o reino ambíguo da poesia, esse reino que é por excelência o seu. Por outro lado, o poeta passa também a apostar em sua memória, na sua e na do leitor, deixando-o assim participar muito mais ativamente do que antes da realidade do poema. Essa aposta na memória irá resgatar sentimentos ocultos ou supostamente perdidos, ou simplesmente adormecidos na intimidade dos seres. As alusões e associações de idéias substituem as referências objetivas, o que leva o tempo a se distender para frente e para trás dentro do conúnuum poemático.
Nesses primeiros momentos de libertação e de euforia, a poesia moder¬nista pouco tem de reflexiva, de grave meditação sobre o sentido da vida ou do tempo. Ela é, acima de tudo, descritiva, pitoresca e anedótica, confiando cegamente na impulsão lírica advinda dos próprios objetos ou do simples esboço das situações. Inspira-a o automatismo psíquico que permite a apreensão imediata e sintética de breves momentos de exaltação lírica. E o apelo do subconsciente, método muito explorado pelos surrealistas franceses e que os levou à técnica da escrita automática. Toda essa poesia se fundamenta nas impressões e sensações, sua linguagem é fugaz, entrecortada e crivada de síncopes. E a partir daí, aliás, que se desenvolve entre os modernistas, em particular nos textos de Oswald de Andrade, a técnica da fragmentação, do fluxo descontínuo do subconsciente, tal como o vemos no Ulysses, dejoyce, ou em A Ia recherche du temps perdu, de Proust. Embora o nome de Baudelaire jamais aflore nos textos dos manifestos modernistas, é a sua lição que agora se difunde: aos poetas de 1922 e seus herdeiros não mais importa aquela hierática noção do Belo, mas sim a sinceridade, o direito a dizer tudo e não recuar diante da crueza ou da busca assuntos familiares, concretos, arrancados à vida cotidiana, numa tentativa de descobrir e revelar a fantasmagoria do mundo que o circunda, ou de analisá-lo em termos de sátira ou escarmentação. E a principal vítima dessas catilinárias seria o burguês, símbolo das atitudes, idéias e compor¬tamentos de uma época defunta, mas ainda insepulta.
Os poetas realizam então todo um imenso esforço para superar as fórmulas desgastadas pelo mau uso e a inércia, empreendendo uma tomada de contato com o real e o imediato, pois permanecem ainda extasiados diante do feérico espetáculo de transformação com que se defrontam, desse mundo exterior que ganha em velocidade, em mecanização e em síntese e que, consequentemente, irá influir sobre a própria linguagem, que absorve novas e insólitas soluções. O poeta incorpora à sua arte o sentimento do tempo presente, suas inquietações e adversidades, e o verso, antes melódico, de ritmo marcado, é substituído pelos recursos da surpresa, da dissonância, do absurdo e das interferências suscitadas pelas alusões, analogias e associações de idéias, muito embora dele ainda estivesse ausente aquela técnica do palimpsesto que inspirou todo o intertextualismo contemporâneo e que, entre nós, somente se cristalizará na invenção de Orfeu, de Jorge de Lima. Caminham assim lado a lado, na poesia modernista, o cotídiano e o raro, o trivial e o profundo, o pitoresco e o essencial, o claro e o escuro. O estilo rompe as regras sagradas que séculos e séculos nos legaram, e a gíria, o lugar-comum, as expressões da linguagem do dia-a-dia passam a ser assimiladas como agressões à linguagem tradicional. Nasce o poema-piada, com o qual os modernistas escandalizavam ainda mais a austera atitude burguesa. E tornam-se corriqueiras as "sabotagens gramaticais saborosíssimas", como as chamou Manuel Bandeira. A todo esse caótico retorno ao elementar, ao primitivo, somam-se também a invenção verbal, o inesperado matrimónio entre substantivos e adjetivos que parecem se repelir, criando assim uma tensão dialética que confere ao poema um outro grau de dinamismo. A sintaxe é também deformada e a poesia, que fora antes musical, é agora visual, e seu ritmo se apóia nas lancinantes síncopes do jazz ou em cortes abruptos da técnica cinematográfica. Como se sabe, a poesia modernista não hesitou em incorporar a experiência do cinema, daquele cinema ainda mudo e cuja essência estava apenas na imagem, no ritmo e na montagem de segmentos aparentemente desconexos.
A ruptura desencadeada pelo modernismo completa assim o seu ciclo. A arte brasileira não poderia mais voltar a ser o que era, pois os golpes que lhe desferiram, além de certeiros, eram profundos. Não se tratava, como poderão ter pensado alguns, de uma agressão à forma, mas à própria estrutura esclerosada da expressão artística. A insurreição modernista degolou qualquer possibilidade de retorno, mas instaurou um impasse: concluída a etapa de euforia e de delírio iconoclástica, cada poeta, cada artista, deverá ter se perguntado a si mesmo, no mais fundo de sua solidão e de sua individualidade: e agora, o que fazer? Penetrara-se a medula da criação, mas não se atingira ainda o público ao qual toda essa revolução se destinava. O leitor continuava distante, e distante permaneceria ainda por algumas décadas. A literatura modernista não vendia livros, não conquistara o público, que continuaria aferrado aos padrões vigentes antes de 1922. Ultrapassado esse período literário tipicamente estético, em que a arte é a solicitação intelectual mais exigente, e conquistado o direito de aplicar, como melhor lhe aprouvesse, os novos recursos de composição, o poeta se defrontava agora com um outro desafio: o da construção de seu próprio destino e da busca de um sentido criador à tarefa que deveria cumprir. Ele já se apossara de todos os meios de expressão que a ciência, a cultura, a psicologia e a técnica moderna lhe haviam proporcionado, já rompera com os preconceitos estilísticos c linguísticos, e dera ao idioma toda a maleabilidade pretendida, fazendo o mesmo com o verso e a compostura dos temas. Brincara e folgara, cultivara o humor, o sarcasmo, o poema-piada, polemizara e destruíra a inteligência conservadora, embora muitos deles continuassem conservadores e até reacionários, e praticara toda sorte de paradoxos. Exercera, enfim, todas as decanta¬das e suspiradas liberdades. E agora?
Na verdade, essa pergunta não dizia muito respeito aos modernistas, sobretudo os ortodoxos. Eles haviam cumprido o seu papel, o da ruptura. O resto era com seus herdeiros, aos quais haveria de caber uma longa tarefa de reconstrução e de filtragem crítica. O modernismo, em sua postura essencial¬mente reacional, guiara-se pelo princípio do épater le bourgeois, mas aos poucos esse burguês já não mais se assustava. Continuava burguês, mas não tão burguês quanto antes. Aruptura deflagrada pelo modernismo tem que ser vista necessariamente de um ângulo histórico. Era preciso fazer o que foi feito numa determinada época, numa de terminada circunstância literária, política e social. Criticar agora o modernismo é muito fácil, embora necessário, pois certos equívocos e excessos continuam a exercer forte influência sobre espíritos desavisados. Minha crítica ao modernismo é velada e se manifesta agora através das atitudes que assumo e da literatura que ora pratico. Mas o que hoje se escreve só se tornou possível porque, em certo momento, alguns desses modernistas se sacrificaram do ponto de vista pessoal. E foram "trezentos ou trezentos e cinquenta'', como disse Mário de Andrade, para que, muitos anos depois, cada um de nós pudesse ser um, ou seja, para que pudéssemos ser o que agora somos, para que cada um de nós tivesse um nome e uma obra capaz de ser identificada através desse nome intransferível e eterno, pelo menos na medida em que algo se faz eterno. Esse movimento de libertação da alma brasileira deve muito a muita gente, mas deve muitíssimo sobretudo àquele que se sacrificou como pessoa e como artista e que, segundo o creio, morreu por ele. Refiro-me aqui a Mário de Andrade, de quem, quanto mais o tempo passa, mais discordo e a quem, paradoxalmente, mais admiro e respeito. Quero concluir este estudo com as palavras do autor da Paulicéia desvairada, ou melhor,, com seus versos, os versos de um longo poema, um poema de funda meditação e de fundo sofrimento - categorias, aliás, de que foi avaro o modernismo -, um texto de que muito pouca gente se lembra, mas que é, a meu ver, um dos momentos mais altos de toda a poesia que se escreveu entre nós. Falo aqui de ' 'A meditação sobre o Tietê'', desse poema-testamento em que afloram toda a grandeza, toda a dor, toda a miséria e toda a glória de alguém que morreu para que a literatura brasileira pudesse continuar a viver. Esse poema foi escrito entre 30 de dezembro de 1944 e 12 de fevereiro de 1945. Duas semanas depois, Mário de Andrade deixava para sempre o nosso convívio, esse convívio que perdura, todavia, nos versos que agora transcrevo:
Estou pequeno, inútil, bicho da terra, derrotado.
No entanto eu sou maior... Eu sinto uma grandeza infatigável!
Eu sou maior que os vermes e todos os animais.
E todos os vegetais. E os vulcões vivos e os oceanos.
Maior... Maior que a multidão do rio acorrentado.
Maior que a estrela, maior que os adjetivos.
Sou homem! vencedor das mortes, bem-nascido além dos dias.
Transfigurado além das profecias!
Eu recuso a paciência, o boi morreu, eu recuso a esperança. Eu
me sinto tão cansado em meu furor.
As águas apenas murmuram hostis, água vil mas turrona paulista
Que sobe e se espraia, levando as auroras represadas
Para o peito dos sofrimentos dos homens.
... e tudo é noite. Sob o arco admirável
Da Ponte das Bandeiras, morta, dissoluta, fraca,
Uma lágrima apenas, uma lágrima
Eu sigo alga escusa nas águas do meu Tietê.
==============
*Ivan Junqueira (1934-2014) - poeta, crítico literário e tradutor. Foi membro da Academia Brasileira de Letras.
**Brito, Mário da Silva. História do modernismo brasileiro. I - Antecedentes da Semana de Arte Moderna, 5' ed., Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1978.
|